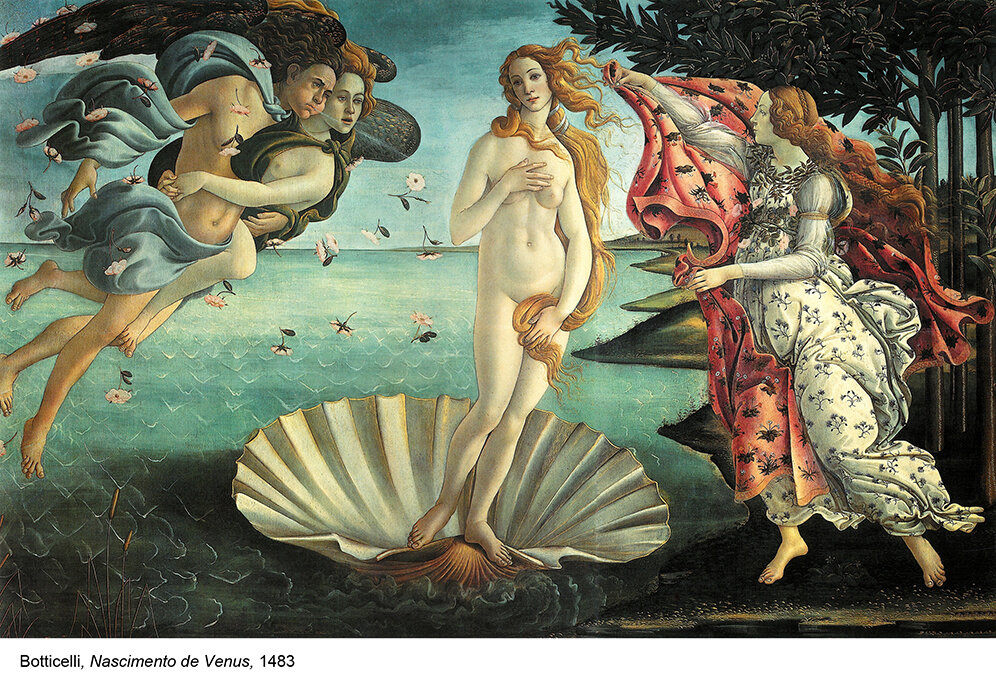Vénus de Vidago, Museu da Região Flaviense
fotografia: Luís Carvalho Barreira
A Vénus de Vidago é uma peça escultórica em granito (40 cm de altura) encontrada na região de Vidago (na aldeia de Selhariz[1]) e patente no Museu da Região Flaviense. De um corpo monolítico feminino, sem cabeça, sobressaem seios avantajados envoltos pelos braços e mãos da figura reforçando um ventre volumoso. Todo o tronco é suportado por pernas fortes, cuja perna direita termina num desconcertante pé, representado de lado, conferindo-lhe uma curiosa estética de movimento. De ancas largas, reforçam a ideia de uma mulher supostamente grávida(?): dito na expressão transmontana, “boas parideiras”. Não é uma escultura de vulto redondo; as costas lisas e de forma paralelepipédica acompanham todo o corpo sem detalhe algum anatómico, o que indicia pertencer é um espaço arquitectónico mais complexo de adoração e ou de culto de uma divindade. A Vénus de Vidago à semelhança de outras figuras intituladas de vénus paleolíticas (neste período a produção de artefactos artísticos resume-se a esculturas, de pequena dimensão, tais como: Hohle Fels, Willendorf, Lespugue, Grimaldi, etc.[2]) não são mais do que o seguimento de práticas milenares de culto à Mãe-Natureza. Uma verdadeira comunhão entre a mulher que gera vida e a Natureza onde brota toda a vida indispensável ao sustento. Iconograficamente estas esculturas apresentam as mesmas características: grandes seios, quadris largos, características fisiológicas de mulheres férteis. A Mãe-Natureza enquanto divindade personifica a generosidade da Natureza, a maternidade, a fertilidade, enquanto o falo[3] representado pelos menhires e estelas simbolizam a energia da criação.
Estela fálica, Museu da Região Flaviense[4]
E tudo terá começado – provavelmente – quando o Homem pré-histórico (período paleolítico) muito antes da revolução agrícola (c.10000 a.C.) encontra na vida dicotómica entre a vida e a morte, entre o dia e a noite, entre o renascimento e a fertilidade, entre a matéria mais directa e a sua existência. O Homem irá assistir a ciclos de vida que se regeneram segundo ritmos temporais constantes; repara na mudança do dia para a noite; observa o movimento dos astros (principalmente o Sol); presencia as estações do ano e em certos períodos anuais colhe os alimentos indispensáveis à sua vida. A noção de tempo circular, finito, vai ser o cerne da cogitação de todo o Homem, e do pré-histórico em particular, definido em ciclos de vida que se renovam todos os anos. Uma realidade entendível porque é observável e partilhável através do conhecimento empírico herdado do saber dos seus ancestrais e da partilha da comunidade onde está inserido. Esta noção de tempo esbarra quando tem consciência da finitude da sua existência: o desconhecimento e a morte. O desconhecimento será combatido paulatinamente pela experiência adquirida, pela ambição do saber e pelo entendimento de tudo aquilo que o envolve. A morte acrescenta uma nova unidade de tempo: o infinito, o absoluto, o sobrenatural, o divino. Esta ideia de absoluto, insondável mesmo nos dias de hoje, levá-lo-á a entregar-se ao livre-arbítrio de entidades sobrenaturais: os rituais divinos. Uma realidade especulativa e transcendental. Esta dual dimensão entre a matéria e o transcendente; entre o corpo, o seu corpo, e o divino; entre o conhecimento e a morte; fará com que os objectos produzidos reflictam esta interacção comunicacional entre ele e a ideia de Absoluto. E o único motivo que o homem encontra para se poder expressar é com o seu corpo. Porque o corpo encerra em si todo o mistério existencial e manifesta-se segundo valores formais conhecíveis que lhe diz respeito. O corpo, enquanto matéria, será o objecto eleito para enfatizar a ideia de absoluto entre a criação e o transcendente[5]. O homem conceberá a metafísica segundo modelos de uma realidade vivida. E é o corpo e com o corpo interagindo com a Natureza que os objectos ganham significado. A “arte” nasce, assim, de uma necessidade quase umbilical entre o Homem e a Natureza; entre a relação estabelecida entre a existência e a sua essência[6] (o que constitui a natureza do seu Ser), entre a pulsão criadora e o acto criativo que podemos passar a defini-lo como “o corpo poiético”. A criação antecede o instinto de sobrevivência. Assim, não é de estranhar que as primeiras manifestações de índole “criativa”, como as peças escultóricas, ou as pinturas e gravuras conhecidas, ou mesmo os monumentos megalíticos tenham para o Homem um carácter mágico. Os objectos criados personificados ou transformados em divindades tornam una a condição humana. O Homem cria para alimentar, sobretudo, o desejo de fertilidade. E a Mãe-Natureza será a primeira divindade aceite e conhecida, quer seja simbolizada através de monumentos megalíticos de forma fálica fecundando a terra (em que a Estela fálica, presente no Museu da Região de Chaves é um bom exemplo), quer seja em pequenas estatuetas, amuletos, como a “divindades”, as únicas que dão resposta cabal à inquietação do homem.
Regressemos ao passado para falar de um período de vários milhares de anos em que o Homem recolector vai gradualmente deixar de ter uma vida nómada para se fixar e “dominar” a natureza tendo por base uma economia produtora, proporcionando um maior controle das fontes de alimentação dando origem a comunidades, povos, e por vezes dando origem às grandes civilizações. O achado arqueológico, Vénus de Vidago, enquadra-se neste período das tribos celtibéricas[7] (Idade do Ferro: c.700 – 280 a.C.) e na inquietação das comunidades desenvolvidas neste local. Ela separa-se das suas ancestrais vénus paleolíticas, pelo tamanho, por ser esculpida em granito, pelo conceito estético-estilístico e pela suposta pertença a uma comunidade mais alargada. Para os Celtas a divindade máxima era feminina: a Deusa-Mãe cuja manifestação era a própria natureza. Doravante, a Mãe-Natureza terá outras representações e outros simbolismos consoante a vontade e a necessidade explicativa do homem ao longo da história da sua existência, porém, nunca deixará de ter subjacente os mesmos princípios que orientaram todas as representações: o corpo poiético – a criação, a comunicação, a manifestação, em suma, aquilo que hoje chamamos de objectos artísticos - estará intrinsecamente ligado à sexualidade, à abundância, mediada pelo receio do absoluto. Assim, jamais a condição humana separará a matéria do transcendente e o Corpo da Criação.
Texto e fotografias: 1998-2025 © Luís Carvalho Barreira
Mapa: Vénus no Paleolítico
[1] Aquae Flaviae, pág 110. (Livro consultado no Museu da Região Flaviense)
[2] Ver mapa em anexo.
[3] Na Antiguidade Clássica ele era um símbolo apotropaico, ou seja, tinha o poder de afastar o azar e as influências maléficas, ao mesmo tempo em que simbolizava a protecção junto à ideia de fertilidade e vida.
[4] Casualmente descoberta em trabalhos de desassoreamento que no ano de 1980 se efectuaram junto da Ponte Romana, a Estátua-Menir de Chaves revela uma morfologia fálica esquadrada em quatro faces onde se insculpe um conjunto de atributos de carácter guerreiro com provável significação simbólica e ritual. A estela foi criada sobre o suporte de um bloco paralelepipédico, podendo ter resultado do reaproveitamento de um menir de cronologia mais recuada e onde a parte superior era destacada para dar a configuração geral de um falo. A peça, estudada em pormenor por Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Vítor Oliveira Jorge (ALMEIDA; JORGE: 1980, p.5 - 24), é de um granito de boa qualidade, e apesar de algumas escoriações que resultaram da sua remoção do leito do rio Tâmega, encontra-se em bom estado de conservação.
[5] Aquilo que mais tarde Aristóteles definiu como Ethos / Pathos / Logos: Um apelo ao ethos depende da credibilidade, competência e reputação da pessoa que faz o argumento. O recurso para pathos é um argumento emocional. Argumentos dessa natureza podem ter como alvo sentimento comum, valores culturais compartilhados ou serem estruturados para manipular e provocar uma resposta emocional directa. A pessoa que faz o argumento procura fazer o ouvinte se identificar com ela. O recurso para logos é um argumento lógico. A credibilidade do argumento repousa sobre a sua coerência e estrutura interna, bem como a evidência apresentada no seu apoio. Um argumento pode ser de apenas um desses estilos, mas Aristóteles acreditava que um argumento eficaz mistura todas as três qualidades.
[6] Nota: para Platão um Ser é percebido a partir do espírito ou das Ideias que se sobrepõem às percepções sensoriais. Para Aristóteles a reunião das características comuns de cada Ser define a natureza intrínseca de cada Ser. Para S. Tomás de Aquino (Tomismo) a concepção geral de um Ser é percebida unicamente através do pensamento e eventualmente dissociada da realidade existencial, única e palpável.
[7] Tribos vindos do centro da europa principais responsáveis pela introdução e manufactura do ferro. Os celtas são considerados os introdutores da metalurgia do ferro na Europa, dando origem naquele continente à Idade do Ferro (culturas de Hallstatt e La Tène).